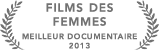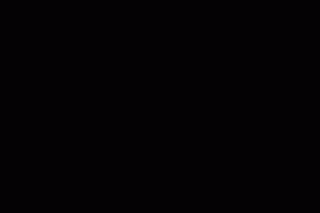A arte de transformar a dor
22 de dezembro de 2014
Por Petra Costa, para a revista Baazar, maio de 2013
Acordei com um nó no estômago. Eu tinha acabado de morrer. No meu sonho, estava em cima de um muro, brincando com um emaranhado de fios elétricos, até que tomava um choque, um choque letal. Não, não era eu quem mexia nos fios, era Elena, que eu não via há 20 anos. Eu me perguntava, “como ela pôde ficar tanto tempo desaparecida?”. Eu tentava chegar perto, mas, antes de conseguir tocá-la, ela subia num muro. Ou será que era eu?
Tentando decifrar esse sonho, fui tomar café, que não descia. Nossas identidades se entrecruzavam no meu estômago com a sensação aguda da morte. No cair do mesmo dia, ao escrever o argumento para um filme, tentava descobrir qual seria a memória da minha protagonista quando a sensação do sonho me voltou à garganta. Percebi que a protagonista era eu, e a memória era a que tenho de Elena.
Elena é minha irmã e morreu em dezembro de 1990. Eu tinha 7 anos, e ela, 20. Dois anos antes, ela se mudara para Nova York com o sonho de ser atriz de cinema – minha mãe e eu fomos junto. A solidão, o frio, a dificuldade com a língua, a constante espera pelo resultado dos testes de casting de que participava foram a levando à tristeza. Um dia, num grito de socorro, Elena tomou aspirinas com cachaça. Ela era alérgica a aspirinas. Quando nossa mãe chegou em casa, Elena estava desmaiada. No hospital, morreu asfixiada pelo próprio vômito.
Onze anos depois, 2001, em São Paulo, aos 18 anos, fiz um workshop com o grupo Teatro da Vertigem. Tinha três dias para fazer uma cena com o tema “O livro da vida”. Como nunca tive relação com a Bíblia, a Torá, o Alcorão, nenhum livro sagrado, fui buscar a resposta nos meus diários. Vasculhando caixas de cadernos antigos, encontrei um que eu nunca tinha visto. A letra se parecia um pouco com a minha. O que li em suas páginas me dizia respeito de forma assustadora. Falava das angústias mais íntimas que eu estava vivendo, mas que não encontrava palavras para expressar. Vi ali meus desejos e inseguranças na arte, os conflitos amorosos, a tensão com os pais e encontrei, em cada palavra, a estranha sensação do duplo, de sentir que minha vida já havia sido vivida por outra pessoa e de que meus passos já estavam traçados. Como se eu, embora até então achasse o contrário, não tivesse nenhum controle sobre meu destino. O diário era de Elena.
 Numa mistura de estado de choque e encantamento, construí para o Vertigem uma cena em que misturei trechos do diário de Elena com passagens dos meus. Dias depois, li Hamlet para uma aula e vi, em Ofélia, um arquétipo que percebi estar presente tanto em Elena quanto em mim. Algo do feminino na transição da adolescência para a vida adulta, que se afoga ao não conseguir lidar com o excesso de desejos e sensações. Saí da sala com a ideia clara de que tinha o dever de fazer um filme sobre a transição da adolescência para a vida adulta, mas pela ótica feminina. Sobre a Ofélia que eu via em mim, em Elena e em tantas meninas-mulheres ao meu redor. Nunca tinha pensado em dirigir um filme. Mas, naquele momento, me veio como um raio esse meu dever com a Elena, com a Petra de então, e com as jovens que viriam a ter sensações parecidas.
Numa mistura de estado de choque e encantamento, construí para o Vertigem uma cena em que misturei trechos do diário de Elena com passagens dos meus. Dias depois, li Hamlet para uma aula e vi, em Ofélia, um arquétipo que percebi estar presente tanto em Elena quanto em mim. Algo do feminino na transição da adolescência para a vida adulta, que se afoga ao não conseguir lidar com o excesso de desejos e sensações. Saí da sala com a ideia clara de que tinha o dever de fazer um filme sobre a transição da adolescência para a vida adulta, mas pela ótica feminina. Sobre a Ofélia que eu via em mim, em Elena e em tantas meninas-mulheres ao meu redor. Nunca tinha pensado em dirigir um filme. Mas, naquele momento, me veio como um raio esse meu dever com a Elena, com a Petra de então, e com as jovens que viriam a ter sensações parecidas.
Sabia que ainda tinha de percorrer muito chão, que ainda me encontrava no meio de um quebra-cabeça embaralhado. E, dentro desse quebra-cabeça de espelhos e tragédias, havia dois tabus: a cidade de Nova York e a atuação. As proibições não ditas, mas insinuadas, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe, de que eu “poderia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York; escolher qualquer profissão, menos ser atriz”. Para certo desgosto deles, eu já estudava e trabalhava com teatro. E, pouco mais de um ano depois, me mudei para Manhattan.
Foi justamente em Nova York que os medos começaram a se dissolver. Foi lá que me olhei no espelho e vi um reflexo muito diferente do de Elena. Fiz amigos, me apaixonei, ressignifiquei aquela cidade com outras memórias, outras vivências. Voltei à nossa antiga casa na cidade. Lá eu fiz 20, 21, 22 anos… deixando para trás, pouco a pouco, o medo de que, como Elena, não passasse dos 21. Foi lá que também me encantei pelo cinema e encontrei nele a minha forma de expressão, a minha voz.
 Em julho de 2009, estava morando no Rio, trabalhando com cinema e há muito tempo sem pensar em Elena. Até que, um dia, acordei no susto daquele sonho. Sem saber se era eu ou se era ela. O sonho trouxe de volta a memória do filme prometido sobre Elena. Percebi que precisava saber mais sobre minha irmã para poder me lembrar melhor dela. Precisava saber tudo que fosse capaz de descobrir sobre ela. Busquei seus amigos do teatro e da dança: Fernando Alves Pinto, Alexandre Borges, Ângelo Antônio, Leal Baiolin, Letícia Teixeira, Rosana Seligmann, Gabriela Rodella e muitos outros. Para minha surpresa, depois de 20 anos, a memória dela seguia viva em cada um deles. Voltei para Nova York com a agenda de telefones que Elena usava em 1989 e fui buscando todos os seus amigos, na internet, na lista telefônica. Busquei suas cartas, seus desenhos, suas fotos. Encontrei horas e horas de fitas cassete e de VHS e, por meio de cada uma dessas pessoas e coisas, Elena foi tomando forma, tomando corpo.
Em julho de 2009, estava morando no Rio, trabalhando com cinema e há muito tempo sem pensar em Elena. Até que, um dia, acordei no susto daquele sonho. Sem saber se era eu ou se era ela. O sonho trouxe de volta a memória do filme prometido sobre Elena. Percebi que precisava saber mais sobre minha irmã para poder me lembrar melhor dela. Precisava saber tudo que fosse capaz de descobrir sobre ela. Busquei seus amigos do teatro e da dança: Fernando Alves Pinto, Alexandre Borges, Ângelo Antônio, Leal Baiolin, Letícia Teixeira, Rosana Seligmann, Gabriela Rodella e muitos outros. Para minha surpresa, depois de 20 anos, a memória dela seguia viva em cada um deles. Voltei para Nova York com a agenda de telefones que Elena usava em 1989 e fui buscando todos os seus amigos, na internet, na lista telefônica. Busquei suas cartas, seus desenhos, suas fotos. Encontrei horas e horas de fitas cassete e de VHS e, por meio de cada uma dessas pessoas e coisas, Elena foi tomando forma, tomando corpo.
Durante um ano, quase todos os meses, ela aparecia em sonhos. No primeiro foi a imagem de sua morte. No segundo, Elena se cortava e eu começava a entender sua dor. No terceiro, eu cozinhava sua dor numa panela até ela evaporar. No quarto, eu sobrevoava uma floresta e, num cantinho de mata, via a alegria de Elena, que era laranja, da cor das árvores no outono. No quinto e último sonho, eu, menina, dançava em volta de sua cintura.
Já faz um ano que não sonho com Elena. Sinto, hoje, que, por meio do tempo e da alquimia entre imagem e som, as dores viraram água, viraram memória… viraram cinema. Na tela, Elena descansa. E dança.
<<< voltar para Mídia
 21 DE NOVEMBRO DE 2014
21 DE NOVEMBRO DE 2014
ELENA em Los Angeles
Dia 21 de novembro, no Screen Actors Guild Foundation. A diretora Petra Costa e o ator americano Tim Robbins estarão presentes.