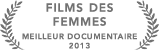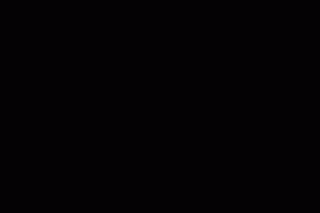O lado escuro
17 de dezembro de 2014
“Todo mundo é uma lua e tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém”.
MARK TWAIN
Valdomiro Santana
“Está triste?” Todos nós já ouvimos, inúmeras vezes, essa pergunta direta das pessoas mais íntimas, sem que tenhamos vivenciado algum acontecimento doloroso. Tudo, aparentemente, está bem, segue seu curso normal, e não nos faltam motivos e estímulos para estar no mundo, ter projetos existenciais e procurar realizá-los, descobrir nesse empenho o que é novo e gratificante — enfim, o que nos mantém em sintonia com a potência da vida.
Então nos damos conta, ao ouvir essa pergunta, de que nossa vivência do tempo mudou. A passagem das horas ocorre de modo tão rápido, que, por exemplo, o ciclo da manhã-tarde-noite se achata e dele não mais fazemos parte, pois não o percebemos.
Experiência oposta é a que ocorre quando estamos ansiosos: assalta-nos a sensação de que as horas não passam; alguma coisa, que não sabemos o que é, se retarda. Os fatos mais banais parecem conspirar contra nós. O que temos à frente para fazer se distancia… Esse tempo vivenciado como lento é, quase sempre, não só acompanhado de irritabilidade, desassossego, mas, também não raramente, de medo. Não um medo cuja causa conhecemos, como a de um perigo diante de nós, ou de uma ameaça — mas um medo vago, difuso, que não sabemos de onde vem, e que nos invade, associado à fantasia da sensação de que aconteceu ou vai acontecer o pior.
Tanto na tristeza não prolongada quanto na experiência em que nos sentimos agoniados, com pressa de fazer seja o que for, correndo contra o relógio, todo o nosso ser é afetado. Em ambas as situações, o que é logo notável, nossa linguagem se torna também reativa: ora tende ao quase mutismo, porque falar é inútil, com toda a carga de monotonia e tédio que pomos em nossa convicção da inutilidade do conversar, ora se acelera o ritmo que damos à nossa fala, saturada de expectativa tensa, de inquietação, de detalhes repetitivos.
São cada vez mais frequentes, na era moderna, que começou há cerca de dois séculos, os sintomas característicos de depressão e ansiedade. A vida nas grandes cidades é fortemente marcada pelo cotidiano que nos escapa, o qual não tem mais sujeito, é o real concreto não identificável, sem rosto, massa abstrata. Viver o cotidiano é uma pessoa qualquer que o vive, e essa pessoa qualquer não sou eu nem é o outro, não é nem um, nem o outro, e é ambos em sua presença intercambiável, em sua falta anulada de reciprocidade.
Soma-se a isso o que torna mais complicada — no sentido mesmo de doente, penosa, sofrida — a vida na sociedade contemporânea: o fato de que também percebemos o cotidiano como sem existência objetiva. Nós o vivemos como o que poderia ser vivido por uma série de atos técnicos, sem nenhuma ligação entre si, representados por aparelhos (a máquina de lavar, o aspirador de pó, o refrigerador, a TV, o telefone celular, o computador, o automóvel, o condomínio, o clube…). Experiência essa que, sem poder se objetivar, tende incessantemente a se entorpecer em coisas. E, quando desabafamos ou nos queixamos do peso desse cotidiano em nossa existência, nos respondem: “Mas é assim para todos”, e acrescentam: “Não há esperança de que isso algum dia mude”. Então vivenciamos o perigoso vazio da indiferença diária, esse não lugar no qual não apenas todos os nossos atos, mas também o que chamamos de valores e a própria ideia de valor, parecem dissolver-se. Em qualquer lugar, e não apenas nas megalópoles, esse desconforto já se verifica há muito tempo.
Vejamos agora em linhas gerais e a título de esclarecimento o que é nosso mundo interior, nosso psiquismo, esse oceano aparentemente sem fundo nem margens. Sublinhemos um fato psicológico: a infância humana, a mais longa do reino animal, é por isso tão frágil. Toda criança tem três necessidades básicas: a de aceitação (sentir que foi desejada pelos pais), a de afeto (sentido na pele) e a de segurança (para não sofrer privações). Bem sabemos que em milhões de histórias de vida essas necessidades não são satisfeitas, e por motivos de toda ordem, que não precisamos referir.
Spitz e Rogers
René Spitz (1887-1974), psicanalista austríaco americano, foi quem primeiro percebeu, em 1945, nos EUA, a gravidade de um problema vivido por crianças órfãs. Privadas de atenção e de afeto, elas, ainda que acolhidas numa instituição, depois de algum tempo começavam a definhar em todos os sentidos. Negativismo (a recusa de alimentos era a mais preocupante), mutismo, alheamento ao máximo, tristeza imensa. Em consequência, morriam. Esse, o quadro que Spitz chamou de depressão anaclítica ou hospitalismo. A necessidade gritante daquelas crianças, como ele descobriu, era a de afago. Foi o que logo passou a lhes proporcionar e recomendou expressamente ao pessoal do orfanato. Essa providência — a do contato epidérmico, e com a comunicação atmosférica que envolve —, como Spitz observou, acompanhou e descreveu, foi decisiva para pôr fim a tantas mortes.
Conta o psicólogo americano Carl Rogers (1902-87) a história de um cliente cujo tratamento se prolongou e sem resultado. O sujeito se tornou alcoólatra. Um dia, ainda com um fiapo de autoestima, declarou a Rogers que era um homem sem ninguém e sem mais nada. Havia perdido seu casamento, os filhos, amigos e, por último, o emprego. Aquela seria, pois, sua última sessão. “Vou me matar. Ninguém gosta de mim”, disse, ao se levantar da poltrona. Foi quando Rogers, no mesmo instante já de pé, fez o que subverteu completamente seu método psicoterapêutico, quebrou todas as regras. Pôs a mão no ombro do sujeito, pressionou um pouco, olhou-o nos olhos e respondeu: “Eu gosto de você”. Essa resposta foi tudo para chegar ao fundo do poço e de lá reerguer aquele homem, salvá-lo, porque o ajudou a reconquistar a dignidade de seu destino.
Quando existe o nada
Até aqui falamos do que pode ser considerado reativo ou situacional. Convivemos com uma realidade assim, a externa, de todo dia, da qual não procuramos fugir. Por mais assustadora que ela seja, e mesmo aterrorizante, vista e ouvida ao vivo, ou pelos noticiários. Com a consciência cada vez mais presente de que o inominável, que chamamos de barbárie, já nos afetou. Ou direta ou indiretamente.
Mas, o que acontece quando temos de lidar com a realidade que não é compartilhada pela imensa maioria das pessoas — é nossa, e só nossa, endógena? Quando, tudo seguindo sem problemas, sem que saibamos como nem por quê, irrompe em nós uma dor sem corpo, a da depressão melancólica, que é profunda, grave, e nos avizinha da morte, com o risco, tantas vezes já observado, da linha de fuga que é a própria morte desejada?
Já que o corpo é nossa realidade mais concreta, e sem que uma depressão assim seja percebida pelos que nos são mais próximos e dão provas de seu amor por nós; quando o cotidiano só faz potencializar seu nada radical, que é como sua essência, o vazio que o anima, nosso corpo não mais nos pertence. Sem esse pertencimento, apaga-se a consciência de que todo ato que praticamos é projetado para o futuro. No suicídio, porém, o futuro está obturado porque não mais nos pertencemos; não mais temos o vazio diante de nós, pleno de angústia e irremissível. Tornamo-nos esse vazio.
No entanto, por outro lado, já que mil complicações tem a alma humana, seu lado escuro, se não chega a ser de todo dissimulado, é entrevisto num só e até em vários instantes de seu desamparo extremo. É quando a ajuda — signo que é mais do que uma palavra — tem a força do que nos pode salvar. Ajuda que, em seu significado simbólico, não é outra coisa senão o alargamento do campo do possível. Na reflexão do filósofo Emmanuel Levinas (1906-95), judeu francês nascido na Lituânia, “o ser precede todo ser, o ser que, no desaparecimento, já está presente, que no fundo do aniquilamento retorna ainda ao ser, o ser como fatalidade do ser, o nada como existência: [pois] quando existe o nada, existe o ser”.
Uma dessas possibilidades é o conhecimento que hoje se tem sobre o cérebro, onde suas células, os neurônios, mantêm conexões mediante substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Quando, porém, se manifesta um quadro grave de depressão, verifica-se uma queda dessas substâncias. Os medicamentos antidepressivos aumentam a oferta de neurotransmissores entre o espaço virtual dos neurônios e reequilibram o paciente, restabelecem a comunicação entre um neurônio e outro no processo da sinapse.
A partir dos anos 1980, com o desenvolvimento da neurociência e a transdisciplinaridade de áreas de pesquisa avançada em genética, bioquímica, farmacologia, medicina, ciência da computação, matemática, linguística, psicologia da cognição etc., a produção de novas substâncias de ação antidepressiva é um fato relevante. Até essa época, os métodos de tratamento psiquiátrico eram brutais em qualquer lugar, a exemplo das camisas-de-força, quartos-fortes, lobotomia (intervenção cirúrgica no cérebro que transformava o paciente num vegetal) e eletrochoques (indicados para reduzir delírio, combater a agitação e a depressão grave, com risco de suicídio). A eletroconvulsoterapia ainda se pratica, mesmo sabendo-se que pode causar micro-hemorragias cerebrais.
Em tudo e por tudo, os hospitais psiquiátricos se pareciam. Grande número deles não mais existe, substituídos que foram por serviços abertos e comunitários, os centros de atenção psicossocial, que se estruturam e funcionam em rede. Mudou, e muito, a relação que as pessoas em geral têm com os portadores de transtornos mentais. Todas as famílias os conhecem na intimidade, e é significativa a quantidade das que atualmente se dispõem a tratamentos psicológicos. A compreensão de que a comunidade pode — e deve — ser terapêutica, eis outro dado importante a assinalar, no curso das últimas cinco décadas.
Entretanto, não há como assegurar, com todo o progresso científico da medicina, a eficácia farmacológica no tratamento de transtornos mentais endógenos, como a esquizofrenia e outras psicoses, especialmente a depressão melancólica, o transtorno bipolar e a síndrome do pânico. Para cada um desses quadros há várias classes de medicamentos, e todos eles produzem efeitos colaterais, que podem ser minimizados e até desaparecer. Também já se lida melhor com a dependência que causam durante algum tempo. Não há certezas quando o que está em jogo é a resposta distinta de cada organismo, a particularidade de cada história de vida.
Quando hoje se fala de transtornos mentais endógenos, o que se quer dizer, em primeiro lugar, é o que tem origem desconhecida (ou ainda muito discutida). Com referência às psicoses, ao longo dos anos os pesquisadores se concentraram sobre a patologia cerebral e logo em seguida sobre a patologia do metabolismo. Não conseguiram, porém, explicar tais transtornos de modo claro e convincente, à luz, por exemplo, do que ocorre com as neuroses (em que são significativos os conflitos reprimidos), e tudo ficou em meras suspeitas. Observaram ainda que é distinta a sintomatologia das psicoses de base orgânica (ou em consequência de lesão ou de disfunção cerebral).
De todo modo, um quadro familiar é o que se verifica em relação às esquizofrenias, à depressão melancólica e ao transtorno bipolar, quando se investiga a história clínica dos parentes, nos quais há, com grande frequência, ou registros dessas perturbações ou variantes. Muitas vezes, manifesta-se um desses tipos de psicose (se bem que nem sempre) em familiares que em certos momentos de sua vida se mostraram estranhos, no sentido de esquizoides, isto é, gente que ficava muito mais introspectiva do que já era, isolava-se e, quando em situação de inevitável contato interpessoal, era cortante: “não quero conversa”; cultivava um certo “mistério” em torno de si e de seus atos; acreditava-se “superior” a todo mundo etc. Atualmente, a esquizoidia é considerada um transtorno mental endógeno, ainda que não venha a se tornar persistente ou crônico; mas que pode predispor à eclosão de um problema psicopatológico mais grave.
“Tropeçando atrás da própria voz”
Vêm a propósito as crises intermitentes de loucura que sofria a grande escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941). “Todos nós temos atrás de nossa cabeça um lugarzinho que fica invisível…”, anotou certa vez em seu diário. E em outra ocasião: “Devo registrar — Os céus sejam louvados — o fim de The waves [As ondas, romance, 1931]. Escrevi as últimas palavras — Ó Morte — há quinze minutos, depois de cambalear sobre as últimas dez páginas com alguns momentos de tal intensidade e intoxicação, em que eu parecia estar apenas tropeçando atrás de minha própria voz, ou quase, indo atrás de alguém que estivesse falando (como quando eu estava louca). Quase tinha medo, lembrando as vozes que costumavam voar à minha frente”.
Um dia, na ribanceira do rio Ouse em cuja margem ela adorava passear, foram encontrados a bengala e o chapéu; o corpo só apareceu algumas semanas mais tarde (enchera de pedras os bolsos do casaco que vestira). Deixou um bilhete à irmã e estas linhas a Leonard, o marido:
“Tenho a sensação de que vou enlouquecer. Ouço vozes e não posso me concentrar no trabalho. Lutei contra isto, mas não posso mais continuar lutando. Devo a você toda a felicidade da vida. Você foi perfeitamente bom. Não posso continuar estragando sua vida”.
“Roubada a força do sexo”
Adolescente de 18 anos, porte atlético, bombeiro hidráulico, profissão que aprendera com o pai. Internado num hospital psiquiátrico porque, impotente em sua primeira relação sexual com a namorada, havia se sentido tão humilhado que resolveu se matar, injetando na veia uma mistura de Merthiolate com ácido muriático. Precisou de uma cirurgia reparadora. A humilhação desencadeara um surto esquizofrênico paranoide: seres vindos de outro planeta num disco voador se mancomunaram com Silvio Santos e “roubaram a força de meu sexo”. Esse delírio era acompanhado de alucinações visuais e auditivas. A família nos procurou e pediu-nos que fôssemos vê-lo no hospital, onde já havia se submetido a cinco das sessenta sessões de eletrochoque indicadas, como vimos no prontuário que nos foi mostrado pelo psiquiatra plantonista.
No mesmo dia, à pergunta dos pais sobre o que poderia ser feito, recomendamos o fim da internação: o rapaz ficaria em casa, a prescrição medicamentosa estaria a cargo de um psiquiatra que conhecíamos, e em nosso consultório, duas vezes por semana, faríamos o tratamento psicoterápico de apoio. O que só começou cerca de dez dias depois, quando o quadro evidenciava alguma melhora, e com acompanhamento da família por uma psicóloga. Se o primeiro risco que assumimos foi o de sugerir que o rapaz fosse retirado do hospital para tomar os remédios em casa, o segundo foi a tentativa de prestar-lhe atendimento psicoterápico; o terceiro, quando um bom rapport já havia se estabelecido, dizer-lhe que ele poderia pegar dois ônibus e ir sozinho para o consultório, e não mais em companhia da mãe e de uma irmã.
A medicação antipsicótica foi administrada durante dois meses, porém mantida a dose do ansiolítico e a de um indutor do sono, as quais foram suspensas após cerca de seis meses, por decisão do próprio paciente, que disse já se sentir “bem”. Foi quando recomendamos a volta ao trabalho e ao futebol, que ele praticava nos fins de semana. Fez as duas coisas. Vizinhos e amigos foram-lhe ainda mais afetuosos, e com o tom brincalhão de sempre. Como se nada lhe houvesse acontecido. Conquistou outra namorada. Voltara a força do sexo, ao cabo de oito meses. O que não significava que, eliminado o sintoma da “humilhação” (broxa), outro não pudesse aparecer.
Em resumo: intuímos, e já na primeira sessão, que, ao invés de rebater o delírio com a realidade, nós o alimentaríamos. Delirávamos juntos. Durou a psicoterapia pouco mais de um ano. O acompanhamento psicológico da família se estendeu por mais dois. Nada, porém, nos autoriza a “receitar” o que fizemos com esse episódio agudo de loucura precipitado por uma impotência psicogênica.
A antropologia clínica da ajuda
Os transtornos mentais endógenos, em sua constelação, aqui referidos, ou remontam à infância, ou à crise de identidade da adolescência, ou só se entremostram no adulto jovem ou já maduro. Quando, porém, os sinais e sintomas de um deles, como a depressão melancólica, por exemplo, se deixam perceber, ainda que aniquilada a esperança, já acenam com o pedido de ajuda.
Aqui diz muito possibilitar-se essa ajuda com a recuperação do sentido original da palavra “clínica” — do grego kliné, “leito”, substantivo, donde o verbo “clinicar”: o ato que, na Grécia antiga, significava inclinar-se com reverência sobre o leito de quem está sofrendo, o portador de um pathos, “carga que se funda sobre aquele que deve suportá-la”. Daí, patologia, que é o estudo das doenças. No leito, o kliens, “cliente”, aquele que encontra amparo, ajuda, cuidado: o paciente.
A lição grega admirável, a reflexão que se perdeu, mas pode ser recuperada, é: o cliente deve ser tratado como pessoa, por causa de sua singularidade, e não como caso patológico (ou clínico). À luz dessa diferença crucial, a da sintonia fina com quem está sofrendo, é que os sentidos dos terapeutas e dos familiares devem estar todos prontos na percepção do não raro mudo desespero. A família não fingir que tudo está bem, nem contribuir para ocultar ainda mais (por preconceito ou constrangimento) o lado escuro de um de seus membros, eis o que ainda se recomenda por ser de importância terapêutica altamente relevante.
Então a ajuda pode, em sua dimensão de antropologia clínica, se traduzir em combinação de medicamentos com psicoterapia, da qual também necessita a própria família. Afinal, todas as pessoas desse grupo, e não apenas uma só, estão no mesmo barco e compartilham da mesma dor sem corpo.
Valdomiro Santana é psicólogo, jornalista, escritor e mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana)
<<< voltar para Livro
 10 DE SETEMBRO DE 2013
10 DE SETEMBRO DE 2013
Recordações viram filme
Mais do que a beleza da fotografia, é o diálogo – lírico e poético – de ELENA que brilha neste documentário.