Por Pablo Capistrano – 10/8/2013

Vi uma entrevista de Gilles Deleuze em que o filósofo, já no fim da vida, dizia que a grande literatura tem de ter a dimensão do universal. A vida de alguém, contada em sua cotidianidade, em suas particularidades mais esmiuçadas, não seria um tópico nem necessário, nem suficiente para se construir uma obra literária que passasse pelo teste do tempo.
Como o vento de Agosto, amigo velho, que faz subir as areias das dunas pelos tetos das casas na beira das praias dessa esquina do Brasil, a história arrastaria a vida da gente em direção aquele mar sem beiras, que tudo dilui, mistura e conforma; na maré silenciosa da memória.
Talvez Deleuze esteja certo, se sua arte é a prosa. Talvez ele esteja com a razão se sua tarefa é contar uma história que vença o tempo e faça com que o deserto da memória não desmanche sua linguagem, nem permita que seu nome seja logo esquecido, algum punhado de décadas após seu próprio funeral.
Mas, quando o negócio é poesia, aí, amigo velho, a coisa muda de figura. Porque a poesia pode ser também o lugar do pequeno, do particular, do fragmento da vida, tecida na sinuosa tapeçaria da língua, como um bordado.
E se é assim na poesia, o que dirá, no cinema!
O filme Elena, de Petra Costa é um poema. Uma carta de uma irmã viva, para uma irmã morta, um filme inesquecível (como disse Jorge Furtado em um debate na cidade de Porto Alegre no mês de Maio desse ano).
Ali, na sala escura, no lugar em que nossos desejos são construídos, no espaço simulado de nossa própria mente, onde nossa psique se constrói na imagem que o outro escolhe pra gente, o filme Elena ganha uma dimensão avassaladora.
Não se trata apenas da tragicidade dos temas (o suicídio, a perda, a memória), não se trata da verdade que se esconde atrás de uma história real, que parece ficção; não é apenas pela busca das cenas de nossa própria infância, que costumamos a reconstruir e recontar em nossas narrativas ou nas palavras que escolhemos para reinventar nossa vida a cada degrau do tempo que vivemos.

Há uma visualidade sem pudor no filme, que ultrapassa em muito a mera prosa cinematográfica. Na confluência de uma peça de auto ficção, onde as personagens reais interpretam a si mesmas; mãe, filha e irmã se misturam, em um estranho desdobramento de imagens, de vozes narrativas que se cruzam, de papeis que confluem. É como se houvesse uma única Elena, entre todas, unida definitivamente na síntese da arte.
A menina que se matou em 1990 com vinte anos, que gravou 50 horas de vídeos caseiros entre 1983 e 85, que sonhava ser atriz e que mergulhou na depressão da cisão entre uma Elena que observava a si mesma e se censurava e outra que realizava a vida; aparece ao mesmo tempo inteira e espalhada como uma ponte que liga uma mãe mais velha, a uma irmã mais nova.
Essa conexão trágica só aparece na arte. É só na arte que a vida é maior. Só na arte que a morte desaparece, só na arte que a memória engana o tempo e mente pra ele, fazendo com que a vida ressuscite, em meio à tristeza que fica esfarelada no deserto da lembrança.
Sou muito besta pra chorar em filmes. Acredito que a maior parte das lágrimas que já verti nesses meus quase quarenta anos (descontadas é óbvio, do meu tempo de criança), verteram-se em salas de cinema ou diante da tela da TV.
Curiosamente, não consegui chorar no filme de Petra Costa.
 Sai do cinema com aquele gosto estranho de não entender o que havia acontecido comigo. Estaria eu ficando frio? Teria sido possuído pelo fantasma glacial de uma era sem lágrimas, que anunciaria a segunda metade dos meus dias? Teria me tornado um ser monstruoso, incapaz de me render à força poética daquele desconcertante lirismo que dominou minha vista dentro do cinema, quinta feira à noite?
Sai do cinema com aquele gosto estranho de não entender o que havia acontecido comigo. Estaria eu ficando frio? Teria sido possuído pelo fantasma glacial de uma era sem lágrimas, que anunciaria a segunda metade dos meus dias? Teria me tornado um ser monstruoso, incapaz de me render à força poética daquele desconcertante lirismo que dominou minha vista dentro do cinema, quinta feira à noite?
Passei uma semana sem respostas. Até que comecei a sonhar com algumas imagens do filme. Elas começaram a invadir o território de meus sonhos, não como pautas narrativas, que indicavam os caminhos para meus próprios demônios e minhas próprias assombrações, que em si, já são muitas e varias. O filme de Petra estava lá como uma tessitura, como um contexto pictográfico, como uma pintura vestida de cinema a dar forma as minhas próprias narrativas imagéticas.
Na verdade, quando o cinema faz a vida ficar maior, é difícil não se render à beleza e chorar pra dentro.
Agora, uma semana depois de assistir o filme, tudo ficou mais claro para mim. Foi o alumbramento, amigo velho; esse assaltante dos sentidos, que secou minhas lágrimas.









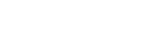










ENGLISH