Meu encontro com Elena – através da generosidade de Petra
por: Rodrigo Luz – Quando a Vida diz Adeus – 26/3/2013
Ser acompanhante e terapeuta de pessoas gravemente doentes e com escassas chances de cura é uma tarefa que elegi para a minha vida – e que me ajuda a construir um sentido para a minha existência. Ao assistir o filme “Elena”, de Petra Costa, me deparei com a questão da morte e do morrer, que diz respeito a todos nós – e pude me emocionar profundamente com a ideia de que podemos compartilhar nossas dores e nossas esperanças com outros seres humanos, e identifiquei uma coisa que repito sempre que possível para as pessoas que me dão a honra de acompanhá-las: “o luto compartilhado é o luto amenizado”.
Cito Norbert Elias, em seu livro “A solidão dos moribundos”, quando ele diz que “não é a morte que cria problemas para os seres vivos”, mas, sim, “o conhecimento” que dela temos, pelo simples fato de sabermos, sim, que todos nós teremos a mesma destinação final. A verdade é que vivemos em uma época de esvaziamento do sentido, em que a reflexão sobre o sagrado e o transcendente é inibida por uma sociedade laica, e que pretende permanecer assim. De fato, o maior desafio que precisamos enfrentar é a construção de uma identidade humanista e aberta, em que a transcendência, o sagrado e o sentido encontrem espaço no âmago das pessoas.
Em nossa lida com pessoas enlutadas pela morte dos seus entes queridos, somos testemunhas do esvaziamento que a morte provoca, justamente porque os rituais em que outrora encontrávamos espaço para construir sentidos e significados estão como que esvaziados, deslocados, enfraquecidos. O filme “Elena”, brilhante e sensivelmente dirigido por Petra Costa, reproduz o que temos visto ao longo da nossa trajetória: é possível se reconciliar com a vida, é possível transformar a dor da perda e construir novos sentidos, é possível reaprender a viver no mundo sem a pessoa que morreu.
A produção cinematográfica evoca, ainda, reflexões sobre o luto infantil, além da compreensão cognitiva da criança sobre a morte, trazendo à tona os debates sobre temas como suicídio, luto, morte e reinvenção da vida. Com respeito ao tema do luto na infância, impossível não citar a falecida professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Wilma da Costa Torres, e suas pesquisas a respeito das perdas e da morte no universo infantil. Wilma identificou que as crianças possuem ideias diferentes a respeito da morte e do morrer, que devem ser levadas em consideração quando formos abordar esses temas com elas.
Um estudo de Maria Nagy foi registrado por Kovács (1992) e serviu como ponto de partida para que se estudasse o conceito da morte e do morrer nas diferentes etapas do desenvolvimento. O estudo primou por uma abordagem onde a idade cronológica foi usada como critério de desenvolvimento. Ele pesquisou a compreensão sobre a morte e o morrer de 378 crianças húngaras na faixa etária entre três e dez anos. Segundo a sua pesquisa, haveria três etapas mais ou menos definidas, a saber:
1. A criança com idade inferior a cinco anos não considera a morte como algo irreversível, além de admitir que haja vida na morte. Nesta faixa de idade, a morte pode ser compreendida como um sono profundo e reversível.
2. A criança entre cinco e nove anos apresenta a tendência em personificar a morte, ora como uma mulher encapuzada e má e da qual alguns poucos podem escapar, ora como uma punição de Deus.
3. A partir dos nove anos, a criança começa a perceber a morte como uma cessação das faculdades biológicas, um fenômeno irreversível, imutável e universal.
Creio, sim, que tanto a criança pequena, quanto a maior percebem a maior parte dos fatos que os adultos lhes ocultam, mesmo que não o expressem através das palavras. Apelam, às vezes, para os jogos, desenhos ou gestos como forma de expressarem seus sofrimentos e evidenciar o seu pouco conhecimento ou o seu medo da morte. Crianças podem expressar sua solidão ao desenharem uma casa vazia, sem portas, com grades nas janelas e ausência de flores no jardim. Além disso, elas podem comunicar suas expectativas em relação à própria morte, rabiscando uma cena de velório ou uma cena de violência. Costuma-se associar a morte com um evento externo e terrível, e não como uma ocorrência natural, que faz parte da existência humana. Algumas crianças, portadoras de doenças crônicas avançadas, em fase final de vida, costumam desenhar borboletas, pássaros, voos mágicos e fantásticos, definindo a própria ânsia por libertação da doença e do sofrimento.
Também cito Young & Papadatou (2003), estudiosos do processo do luto, quando afirmam que “qualquer que seja […] a perspectiva – evolutiva, social, psicológica ou biológica –, a ligação dos pais com os filhos é geralmente considerada a mais significante, poderosa e duradoura de todas as relações humanas”. É justamente por isso que a morte de um pai ou de um filho não apenas promove a experiência de um intenso sentimento de pesar, mas apresenta, também, “um desafio único ao bem estar futuro e ao desenvolvimento” dos sobreviventes. Nesse sentido, aspectos psicológicos, culturais, sociais, físicos e espirituais interferem no processo de uma forma dinâmica e muito complexa. Nessas breves linhas, gostaríamos de sublinhar o grandioso impacto emocional de perder um filho – sobretudo se a morte ocorrer de forma traumática e, até certo ponto, imprevista e inesperada.
Young & Papadatou, com respeito aos aspectos culturais, advertem que “cada cultura atribui à morte de uma criança um significado único”. Nada mais preciso e verdadeiro do que isso.
Nesse mesmo sentido, John Bowlby (2004), psiquiatra e pesquisador dos processos de formação e de rompimento de vínculos, teve a oportunidade de analisar, criteriosamente, o luto em outras culturas – percebendo que cada cultura, assim como afirmam Young & Papadatou, possui uma forma muito particular de conferir significados diante da morte de uma criança.
Citando o sociólogo Gorer (1973), Bowlby (2004) afirma que, do ponto de vista dos costumes, “são poucos os traços ou práticas universais encontrados em todas as sociedades humanas”, bem como diz que “todas as sociedades conhecidas falam uma língua, conservam o fogo e têm algum tipo de instrumento cortante; todas as sociedades conhecidas desenvolvem os laços biológicos de mãe, de pai e filho em sistemas de parentesco”. Ou seja: todas as sociedades têm regras que regulam o comportamento sexual, vida familiar e todas elas designam os casais competentes, de forma a legitimar as gerações futuras e a continuidade da vida – uma forma de produção de legado. Bowlby (2004) ainda esclarece que cada sociedade tem “regras e rituais sobre a eliminação dos cadáveres e o comportamento adequado dos enlutados”.
O processo de luto que se segue após a morte de alguém que amamos é extremamente complexo e é marcado, muitas vezes, de uma intensa oscilação. Isso ocorre porque o luto não é um conjunto de sintomas que aparecem após a morte e tendem a desaparecer com o tempo, mas, constitui, sim, um processo multideterminado de fases que se sucedem e se substituem. Essas fases são didaticamente estudadas e expostas por vários autores e, embora elas tenham uma validade e sejam importantes para estudos e pesquisas na área, penso que elas não têm a mesma eficácia quando se tornam um programa ou uma prescrição para o luto – há pessoas que não vivem todas as fases, e a ordem que as fases são vividas comumente se alterna de pessoa para pessoa.
Na primeira fase (choque e entorpecimento), há a dificuldade em compreender e acreditar que a morte tenha acontecido de fato. Muitas pessoas se sentem atordoadas pelo impacto da perda e se descrevem, muitas vezes, como em um sonho – ou pesadelo. Na segunda fase (anseio e busca), há uma dificuldade em reconhecer a perda e uma tentativa de fazer as coisas voltarem a ser como eram antes da morte. Impõe-se o teste da realidade e quase sempre há uma busca por reaver a pessoa novamente. Quando o indivíduo percebe que o retorno da pessoa, com vida, é impossível, os sentimentos de frustração e raiva podem vir à tona. Na terceira fase (desorganização e desespero), é comum a dificuldade para se concentrar, e o enlutado pode tornar-se profundamente triste. É nesta fase que ele se dá conta de que o falecido não voltará mais, o que o deixa confuso, com medo, e incerto sobre seu futuro. Na quarta fase (reorganização e recuperação), o enlutado começa a reconstruir a vida sem seu ente querido. É possível abrir mão de recuperar a pessoa perdida, são construídos sentidos para a morte da pessoa, e os sobreviventes podem reconstruir suas vidas.
O luto que não segue um bom curso pode ser compreendido e descrito quando há entorpecimento por um período de tempo muito extenso (ausência prolongada de pesar consciente ou fingimento de que as coisas podem seguir como se nada tivesse acontecido); quando há dificuldade em acreditar na morte (ou acreditar na sua reversibilidade) de maneira intensa e persistente por muito tempo após que ocorreu a morte; sensação de vazio existencial, sem realização na ausência da pessoa, com a apresentação de sintomas e/ou comportamentos de risco semelhantes aos da pessoa que morreu; sensação de caos absoluto por um período extenso e sem que o enlutado encontre recursos para elaborar a perda e ressignificar a vida; inabilidade para confiar nas pessoas; dificuldade intensa e desproporcionada em dar prosseguimento à vida (fazer novos amigos, desenvolver interesses); ausência de emoção desde a perda; sentimento de que a vida não tem importância e sentido, com forte presença do sentimento de desesperança em grau extremo. Em todos esses casos, torna-se necessário o acompanhamento com profissional da saúde mental que esteja habilitado para cuidar de pessoas enlutadas – de forma a iniciar o desenvolvimento de uma intervenção específica e que leve em conta o doloroso processo de mudança.
A Inevitabilidade da Morte é um temor constante e que, segundo Yalom (2006), encontra-se abaixo da superfície de todas as pessoas. A ansiedade causada pela morte se manifesta quando as nossas tentativas de nos adaptarmos, ou de minimizar ou negar a morte falham, especialmente em momentos de perda, de morte de pessoas próximas, ou quando somos confrontados com limitações da vida, como quando recebemos o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, como o câncer.
O conceito de Liberdade Existencial diz respeito a uma falta de base assustadora resultante da ideia de que somos os principais responsáveis por nossas vidas. E somos, de fato, responsáveis. Claro que há fatores externos que não dependem (unicamente) de nós – questões genéticas, sexo, altura, doenças, etc. A questão do Isolamento é uma preocupação existencial de grande importância, principalmente quando pensamos em nossa própria morte – conforme sugere Yalom. O isolamento existencial não se refere à solidão intra ou interpessoal, ou ao isolamento social, mas sim à noção de que teremos que enfrentar os principais desafios de nossa existência sozinhos (ex: nascimento, morte). Com sorte, teremos a companhia daqueles que nos amam, mas, por mais que neguemos, eles não poderão seguir a jornada até o final conosco… Naturalmente, quase sempre desejamos, esperançosamente, nesses derradeiros instantes, que todas as nossas lembranças sejam a nossa ponte com o mundo – mundo este que estaremos deixando, através da nossa própria experiência do processo de morrer. Por fim, a questão da Ausência de Significado. De acordo com Breitbart (2003), nós reagimos à questão existencial da ausência de significado por meio da vontade e da criação de significado, para que possamos suportar a vida. Na falta de um significado evidente atribuído à vida, nós buscamos significado em um mundo incerto, intangível. Essa “busca por significado cria o nosso senso de valores” (Breitbart, 2003).
Naturalmente, quando falamos da questão do Sentido da Vida, impossível ignorar o trabalho de Viktor Frankl. Para Frankl, a vida tem um sentido até o seu último minuto e a vontade de encontrar um sentido é uma motivação essencial do comportamento humano. Frankl, no decorrer da sua obra, acentua que todas as pessoas têm a liberdade suprema de escolher a atitude que terão diante do sofrimento. Para ele, as três fontes básicas do Sentido da Vida provém do “trabalho”, das “realizações pessoais” e da “dedicação a causas” – ou aquilo que Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra suíça, chamou de “tarefas inacabadas” (Kübler-Ross, 1987). É através dessas fontes vitais que é produzido o nosso legado, um elemento essencial para manter ou acentuar o sentido da vida. Através da produção desse legado, mantemos ou acentuamos o propósito de nossas vidas – justamente porque algo significativo que produzimos permanecerá depois da nossa morte. Esse legado pode ser uma atividade, uma frase, um exemplo, uma criação de arte – algo que nos represente, quando estivermos ausentes.
“Elena” aborda, ainda, os impactos multi e transgeracionais do suicídio, a partir da vivência de uma menina de 7 anos de idade, assim como os impactos psicossociais em seu desenvolvimento e na estrutura familiar, acenando para o fato de que a morte por suicídio corresponde a um tipo de perda que produz um desafio único à saúde mental dos sobreviventes. No entanto, ainda assim, é possível reinventar e se reconciliar com a vida, depois de vivido o processo de luto. O filme, em essência, fala de um ser que perdoa e um que é perdoado. É um filme de reconciliação. Havia uma criança ferida, magoada com a ausência de um ser amado, petrificada, amedrontada pelos fantasmas da culpa pela sobrevivência, do medo de perder novamente, mas que consegue perdoar a vida, perdoar a existência, perdoar a irmã e perdoar a si mesma.
O filme “Elena”, profundamente acolhedor, sensível e humano, resgata a essência do viver, transformando a dor da perda em possibilidade de ressurreição de vida. Traz para nós, também, a coragem de viver os nossos próprios lutos, rever as nossas situações inacabadas, procurar construir sentidos para a nossa vida e lidar com os nossos ausentes com coragem e fé. Entre sonhos, cartas não enviadas, diários, anotações íntimas, laudos médicos e psicológicos, apreciações e depreciações, produções caseiras e filmes amadores, danças e representações artísticas, “Elena” estimula que o espectador entre em contato com as próprias tristezas, e, a partir desse contato e dessa necessária elaboração, reconstrua a própria vida, e que viva sim, viva plenamente.
Obrigado, Petra, por ser imensamente generosa conosco. Sua história certamente irá ajudar outras vidas a se reconstruírem e a se reinventarem, através de um legado que pretende e promete cuidar de muitos corações sofridos, por muitas gerações, em suas dores e em seus lutos, para que possam voltar a acreditar no valor do amor e da solidariedade.









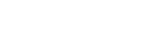











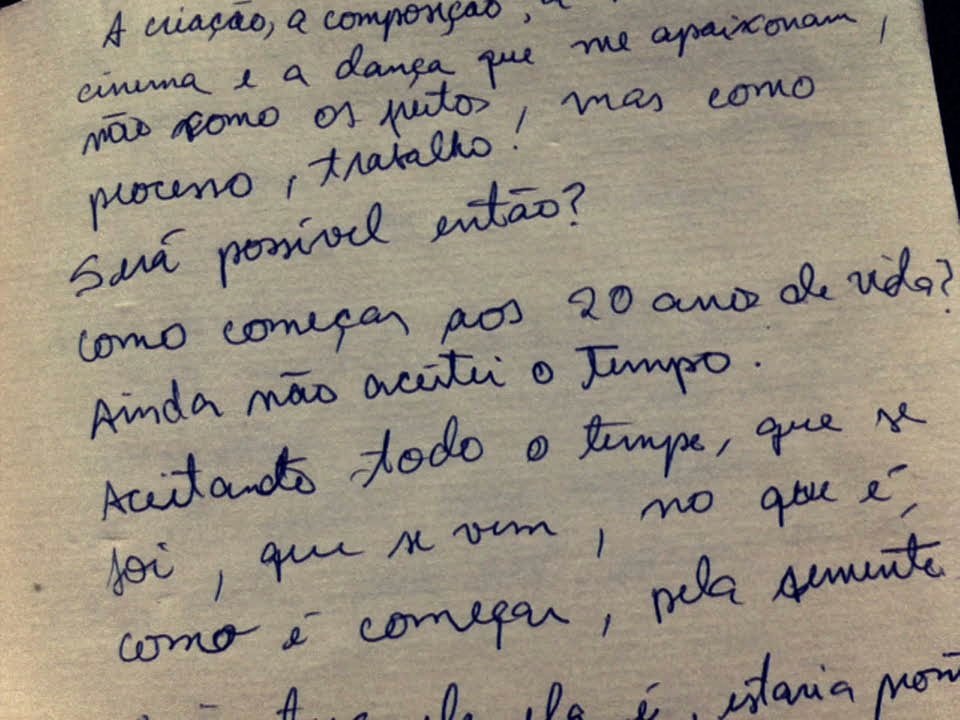


ENGLISH